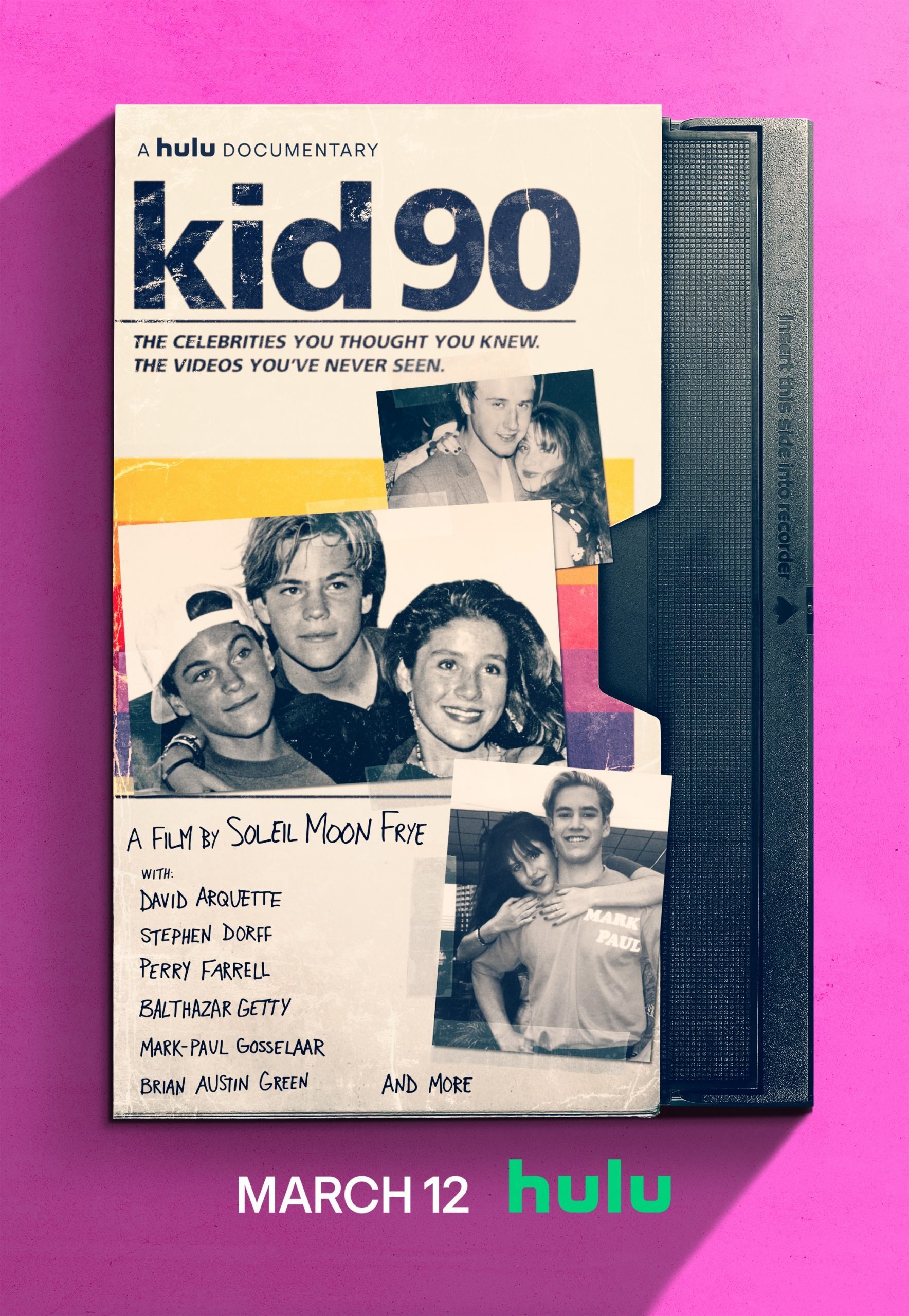Round 6 não é Battle Royale e Jogos Vorazes, e eu vou explicar o porquê
De tempos em tempos, surgem uns fenômenos pop na Netflix que são muito interessantes. Fico atraído principalmente pelos que estão “fora do eixo”, ou seja, não são produções estadunidenses. La Casa de Papel nunca me pegou porque sempre achei de uma energia heterossexual demais (desculpem-me pela heterofobia), mas entendo o apelo. A alemã Dark já me complicou a cuca na primeira temporada - adorei, mas evitei seguir em frente por preguiça de entender a trama complexa (percebi que, quando lançou a segunda temporada, já fazia muito tempo que eu havia assistido à primeira e que eu teria que fazer ainda mais esforço para lembrar e compreender tudo hehehehe).
Outras, como a belga Noite Adentro, a islandesa Katla e a russa Cidade dos Mortos, tinham tudo para pegar, mas sei lá porque não pegaram tanto, apesar de terem fãs. Sou um deles: gosto e recomendo as três.
Mas estou aqui para falar de uma série coreana que virou um fenômeno pop e entrou para o topo dos conteúdos mais vistos da Netflix em todos os países, assim, de repente. TODOS mesmo. É ela: Round 6, ou o Jogo da Lula.
Qual é o segredo? Acho que é uma junção de coisas. Visual instagramável dos cenários dos jogos (sério, acho que isso contou muito), figurinos e iconografia que chamam a atenção (as máscaras, a repetição do quadrado-triângulo-retângulo, o visual dos VIPs e do líder, os caixões em formato de caixa de presente), a impagável e marcante boneca Batatinha Frita 123 (como pode uma personagem que aparece tão pouco entrar para o imaginário pop com tanta força?), personagens minimamente carismáticos, gente-bonita-clima-de-paquera (a imigrante norte-coreana Sae-byeok, a “amiga” dela Ji-yeong, o policial Jun-ho, e o recrutador sem nome que dá tapas na cara de Gi-hun: modeletes, né? Sang-woo também é bem bonitão).
Mas volta a fita: para quem não sabe do que eu estou falando, Round 6 traz a história de um jogo criado para um seleto grupo de milionários (os VIPs, que, aliás, não são amarelos, vale salientar) assistirem. Os participantes são pessoas que estão devendo muito dinheiro e querem ganhar a enorme quantia do prêmio. Só que tem um detalhe: o jogo é mortal, literalmente. Você morre se não consegue chegar no objetivo de cada rodada (que são seis, daí vem o nome).
Outro fator importante é: quanto menos gente viva, mais dinheiro fica acumulado no prêmio e menos gente tem para dividi-lo.
Te lembrou algo? Bom, parece Battle Royale mesmo. E não é à toa: o criador de Round 6, Hwang Dong-hyuk, já disse que o mangá Battle Royale (que veio antes do filme) foi uma das fontes de inspiração.
E os livros que viraram cinessérie Jogos Vorazes, todo mundo diz, parecem “bastante inspirados” em Battle Royale (sim, isso foi um eufemismo).
MAS todavia contudo porém digo logo: consigo identificar diferenças que ao meu ver são cruciais entre Battle Royale (e Jogos Vorazes) com Round 6. Vamos a elas.
Vão vazar uns spoilers. Teje avisado.
Aqui é vida real, bróder
Em Battle Royale, um regime totalitário fictício que organiza os torneios com estudantes do qual só um sai vivo, em resposta à delinquência juvenil (nunca entendi direito como um jogo mortal como esse vai controlar a delinquência juvenil de um país, mas vá lá, tudo pelo entretenimento). Jogos Vorazes se passa em um futuro distópico com uma capital, Panem, e 12 distritos - que ficariam onde hoje está os EUA.
Round 6 é uma história fictícia, claro, mas ela não se passa em realidade paralela ou no futuro de Seul. A referência é a nossa realidade (ou melhor, a realidade sul-coreana). Tanto que é explorado o absurdo que esse jogo significa - ou seja, os personagens dividem a indignação do que estão vivendo com a gente. Em Battle Royale, os participantes do jogo também ficam indignados, mas porque são eles que estão participando, de surpresa. E em Jogos Vorazes, é uma realidade dada: o jogo acontece faz anos.
As questões morais envolvidas, aliás, nos levam a outro ponto…
Show me the money
Em Battle Royale e em Jogos Vorazes, o jogo é composto de jovens armados lutando pela vida. Eles matam porque só um vai sobreviver.
Em Round 6, fica mais ou menos implícito que somente um sobrevive. Mas existem diferenças:
1. Está em jogo não apenas a sobrevivência, mas uma dinheirama (em reais: 208 milhões).
2. A maioria dos sobreviventes pós Batatinha Frita 123 entendeu tudo que estava em jogo (ou seja, compreendeu que era um jogo mortal), teve a chance de não participar e voltou a participar mesmo assim, voluntariamente.
3. Eles voltaram porque todos os participantes possuem grandes dívidas, ou seja: se eles saíssem do jogo sem dinheiro, voltariam para a mesma vida de antes, perseguidos por credores.
E existem mais nuances. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) é um bastião da moral, Shuya Nanahara (Tatsuya Fujiwara) também não quer matar ninguém e só o faz em legítima defesa. Em Round 6 as coisas não são bem assim. Existe o vilão de fato (Deok-su, com direito à tatuagem de cobra no rosto para mostrar que ele é mau), a de moral bem questionável (Mi-nyeo, uma personagem cheia de estereótipos que é transformada pela atriz Kim Joo-ryoung em uma das mais complexas da série, uma mistura de street cred e traumas), o bom de coração puro (Ali, o estrangeiro ingênuo vítima do sistema). E os outros? Sang-woo (Park Hae-soo) também é um vilão? Você pode enxergá-lo como inescrupuloso em diversos momentos, mentiroso (pois engana a mãe no geral e o amigo de infância na hora do jogo). É o tubarão que se deu mal. Salva o grupo quando existe uma causa própria em jogo. No jogo das bolas de gude, ele engana e sofre. No quebra-gelo, ele já está, digamos, contaminado pela amoralidade e mata sem culpa, para não morrer.
Porém, chega o fim e… o que você lê ali? Era tudo pela mãe? Ou ele não conseguiria, como bom “porco capitalista”, ver todo aquele dinheiro desperdiçado?
Gi-hun (Lee Jung-jae), por outro lado, também é questionável. Existe uma linha que ele não cruza. Será? Entre ele e o velho Il-nam (Oh Young-soo), com quem fez amizade, ele escolhe a si mesmo. O velho não está mais lúcido, tem uma doença terminal. Mas isso quer dizer que ele merece menos que Gi-hun? Antes de entrar no jogo, o cara ainda roubava a mãe! Quer pior exemplo? Quando a saúde dela está gravemente ameaçada, ele se arrepende, mas o arco de redenção não é tão, digamos, limpinho e simétrico. E também não “topa tudo para salvar a mãe” - quando o novo marido de sua ex-mulher oferece a grana para que, em troca, ele esqueça da filha, Gi-hun não aceita. Mas participar de um jogo mortal… ah, aí tudo bem!
Round 6 nos deixa com mais perguntas do que respostas porque não fala somente de violência gratuita, do medo da vida humana ter um valor mais relativo. Round 6 é, claramente, sobre dinheiro. Sobre o sistema capitalista. E quem diria, isso tudo vindo da capitalista Coreia do Sul. A dívida é algo real, um problema social do mundo capitalista. Se você tivesse uma dívida desse tamanho, pergunta a série, você entraria num jogo desse?
É uma escolha. Ninguém te força a isso, como em Battle Royale e Jogos Vorazes.
Ainda: na moral dúbia de Round 6, a lógica do jogo não pode ser ameaçada, sob pena de morte. E a lógica é: não haverá benefícios a um ou mais jogadores. Todos precisam ter chances iguais, da mesma forma que se vestem igual e recebem a mesma refeição - meio como num regime comunista! Nesse sentido, é instigante: um jogo para divertir milionários se disfarça de justiça social até as últimas consequências. No fim, parece que esse senso de justiça acontece mais pelas apostas dos VIPs, que precisam de um jogo limpo para funcionar, do que pelos participantes.
Só que… não dá para ter certeza. E essas nuances dão ainda mais sabor e complexidade para a narrativa.
Ela, mais uma vez: a memória afetiva
Todo filme teen possui, aqui e ali, algo de memória afetiva para alguém que já passou pela adolescência. Stranger Things não é o fenômeno que é só porque remete aos anos 1980 - ele remete a referências de infância e adolescência dos anos 1980.
Em Battle Royale, fica mais difícil ter essa leitura porque, logo no começo, o filme já diz a que veio - mesmo quem usou aqueles uniformes de colegial não vai ter essa sensação boa pois é um thriller tenso e sangrento, quase sem respiro. Jogos Vorazes passa longe de qualquer sensação de memória afetiva em seu universo fictício construído.
Round 6 é um jogo de adultos. Mas os adultos se vêem “brincando” em jogos infantis. E são jogos antigos, desses que a garotada do videogame não brinca mais. Claro, a referência é coreana (nunca tinha ouvido falar de colmeia, por exemplo), mas dá para assimilar a ideia mesmo assim. O playground é universal. Quando Gi-hun lembra do jogo da lula em si, deixa o clima de nostalgia claro.
Game over?
Em Battle Royale, as batalhas terminam mesmo? O fim é claro: aquele jogo foi corrompido, o objetivo inicial não se atingiu (ou foi atingido? Um dos maiores mistérios do cinema pop moderno: o que os personagens Noriko Nakagawa e Kitano conversaram naquela misteriosa cena de flashback?). A sequência de BR dá a entender que sim, as batalhas terminaram, mas o regime totalitário continua. Na trilogia de Jogos Vorazes, como uma “boa” história de herói, o bem vence o mal e o regime é destruído.
Em Round 6, o fim é aberto. Talvez exista uma segunda temporada? Não sei se isso daria certo. Mas o fato é que o jogo em si continua, mesmo sem Il-nam, mesmo com Jun-ho (Wi Ha-joon) tentando denunciá-lo. Os VIPs saem incólumes (a pista deixada pela bomba que Jun-ho descobre no túnel dos mergulhadores não dá em nada, surpreendentemente), o líder sai incólume, o sistema inteiro continua de pé com pouquíssimas avarias.
Gameficação
Esse item é mais sobre o que Round 6 tem em comum com essas duas outras obras de ficção do que sobre suas diferenças, mas acho que realça o meu ponto de que ela é mais que uma cópia. Talvez todas façam parte do que já está se concretizando como uma “tradição” narrativa.
Battle Royale não foi a primeira nem a última história que segue esses preceitos de jogos mortais. Aliás, não citei várias outras referências aqui, de jogos de sobrevivência. Tem a própria franquia Jogos Mortais, que começou em 2004. Tem a série japonesa Alice in Borderland, na Netflix.
Odeio esse termo gameficação, mas é isso mesmo: me parece que, quando a narrativa se constrói claramente como um jogo, ela é mais claramente assimilada.
Aí aparecem algumas questões:
. Todo jogo precisa ter um motivo e um objetivo.
. Todo jogo tem regras.
. Algumas vezes, existem consequências para regras burladas. Em outras, não.
O excesso de narrativas assim me soa preocupante. A vida real não é um jogo, não é um BBB nem um Jogos Vorazes. A vida não é filme, você não entendeu, diria Herbert Vianna. Encarar a vida como um jogo é empobrecê-la e banalizá-la.
Mas, enfim, esse sou eu e a minha humilde opinião.
Já existiram tentativas de adaptação de Battle Royale, inclusive para a TV. Elas nunca foram para frente principalmente por causa da violência gratuita e polêmica. Em tempos de Round 6, pós-Tarantino (que é um grande fã declarado de BR), de guerra do streaming e de exploração de franquias até o esgotamento… Uma adaptação de Battle Royale pode estar mais próxima do que a gente imagina.
Extra
GEEEEENTEEEE! Aí me fizeram um espaço instagramável na Coreia do Sul com o tema Round 6, com direito a Batatinha Frita 123 e tudo?
Achei o máximo mas não passaria perto. Eu hein, vai que me pegam para jogar um lance mortal…
Se você gostou desse post, talvez goste desses outros aqui:
. It’s a Sin, ai que série boa de chorar
. Drag queens foram de artistas marginalizadas a conselheiras da família
. O outro Pablo: o do Qual é a Música